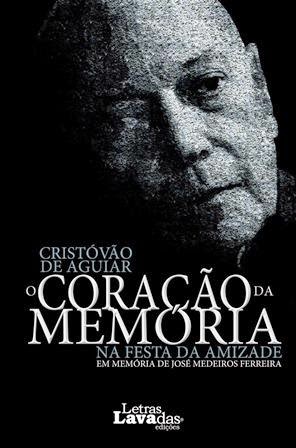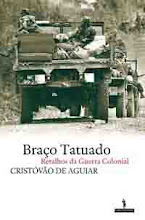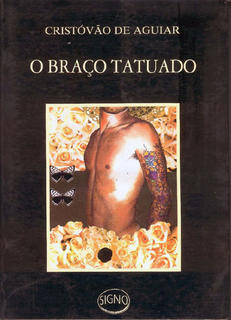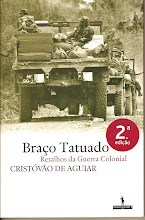Apresentação crítica de Passageiro em trânsito, de Cristóvão de Aguiar
Lisboa, Edições Salamandra, col. “Garajau”, 1994
De como vários contos convergem num só ponto.
Haverá quem possa afirmar nunca se ter sentido um “Passageiro em trânsito” numa estação de caminho de ferro, num ancoradouro, franco ou não, ou num aeroporto, preferencialmente internacional? Quem nunca conheceu essa sensação de ansiedade, espoletada, neste último, pelos altifalantes ‘triglotas’ [“Três são as línguas da comunicação. Todas da europeia cristandade.” (1994: 72)], pelos tremeluzentes quadros eletrónicos e pelos relógios cosmopolitas arautos do almejado anúncio da porta de embarque? Quem nunca se deixou impressionar pela exaltação vivencial num espaço intermédio, no entre dois destinos, dois tempos e dois universos?
É deste transe em trânsito que nos fala Cristóvão de Aguiar, pela via de um protagonista que, afeiçoado ao ato de partir ou, por outras palavras, a essa privilegiada faixa temporal sita, algures, entre a despedida e a largada, adquire o estatuto de “Passageiro em trânsito”, postura indubitavelmente adequada ao seu “estado de homem solto” (idem: 74). Mercê desta sua atitude perante a vida, assiste-se paulatinamente a uma conversão do real e a uma subsequente metamorfose do espaço, firmadas em definitivo pelo não enigmático alegorismo. Destarte, transmuta-se a “moderna feitoria” que é o aeroporto, detentor de uma ampla sala de espera, em laboriosa (e também penosa…) oficina de escrita, transformando-se a deambulação do peripatético protagonista em peregrinação literária do sujeito escrevente, em busca da epifania da inspiração, concretizada por “causos” ou contos desembocando num ponto [.], susceptível de ser identificado com a interiorização mítica da Ilha. Se, acaso, alguma dúvida hermenêutica persistisse a tal respeito, bastaria, para a delir de imediato, atentar na assunção do protagonista como ficcionista e narrador - “Pelo menos, é minha intenção de ficcionista que o sejam [que os caminhos sejam diferentes]. […] Palavra de narrador […]” (idem: 31-41) -, no culto do rodeio ou desvio, sinónimo de liberdade de criação e de rejeição da “linha recta” narrativa - “Nunca gostei de securas geométricas, […] Vagueio em enormes rodeios. […[ Sempre se revela o cometimento de outra grandeza semântica. E de uma maior graça estilística.” (idem: 81) -, no gosto pelo tropo [ou, mais bem dito, pela palavra metafórica (estabelecendo uma relação de analogia), pela palavra metonímica (alicerçada numa contiguidade lógica) e pela palavra sinedóquica (fundada sobre a inclusão)] “parido[a] com muita dor” (idem: 32), na estratégia que preside à opção por esta e não por aquela personagem - “Não é todavia dele que neste momento me quero ocupar. […] Mas tenciono ainda apanhá-lo no alto mar, se o tempo e a prosa estiverem de ficção.” [e não de feição…] / “Agora vou puxar o senhor Afrânio padrinho para dentro do rego desta história. […] vem vindo atraído pelo meu chamado. E cá está ele.” (idem: 103) -, na organização de planos sucessivos e de sequências narrativas encadeadas ou disjuntas - “De resto, já havia pensado em mudar o rumo magnético à rota dos passos.” (idem: 143) -, na nomeação ou batismo de dois viajantes inomados - “Tenciono baptizar neste momento a viúva e o seu companheiro em trânsito. As almas querem-se de resto cristãs e sacramentadas.” (idem: 116) -, no entrelaçamento constante entre o ponto centrífugo ou o sujeito que escreve a perambular e os contos centrípetos (estórias de vida das personagens convocadas, ou seja, de Deolinda, viúva de Joe Perry, de Manuel Reigó, tio de Antília, e do senhor Afrânio padrinho), na universalidade da condição humana, votada à morte, que a condição em trânsito metaforiza - “De resto, todos nós, nesta sala fantasmagórica de aeroporto internacional, somos passageiros em trânsito.” (idem: 96) -, e na reflexão sobre a escrita e sobre o romance, mais sobre a aventura da escrita do que sobre a escrita da aventura, que tão-somente encontra na descontinuidade da intriga a sua coerência narrativa ou no relativo da história o seu absoluto narrativizado - “O desvio que, por consequência, nesta sala se foi produzindo, […] se deveu a tudo quanto, a propósito e a despropósito, se andou atrás narrando.” (idem: 115).
O elo comum de significância a esta fantomática cadeia de passageiros em trânsito é, inegavelmente, a Ilha (recorrendo ao singular, abstrato e classicizante, místico e mítico), cuja personificação e deificação, reificando as personagens insulares, veicula uma coreografia quase ininterrupta de símbolos: presente ou ausente, extraviada ou transplantada, apaziguada ou enervada, encalhada ou embarcadiça, ela vê-se, não raro submersa, não se furtando, muito embora, a emergir no mar interior dos seus continentes humanos, que tanto a repudiam como a perseguem, num misto algo paradoxal de perda e demanda. “Implacável” (idem: 39) e vingativa, não se coíbe de criar raízes, telúrico-marítimas e literárias, no narrador (de entre as quais se destaca, pela sua tirania altaneira, a “Sebastiana” - versão feminina do mito?), de se alojar como cálculo [“em Latim. Calculus, calculi.” (idem: 47)] na sua vesícula (a ponto de a ablação constituir uma hipótese a ponderar…), de ergonomicamente obviar à sua replantação, de arrastar na enxurrada o quarto, transmudando a cama em barco, e de possuir inteiramente o sujeito que escreve - acusado pelo seu “amor” de “Cobarde, fraco, abúlico, volúvel, inconstante” (idem: 64) -, esse Homem-Ilha, já que a Ilha, supranumerária ou não, constitui parte integrante e amada do sujeito integrador e amante. Como os gémeos Armando e Armindo, Homem e Ilha tornam-se um só ente, graças a um processo irreversível de transverberação, responsável pela consubstancialização das principais raízes islenhas e dos órgãos vitais humanos, a que uma linguagem-substância, e devidamente substanciosa, dá forma.
E, de súbito (idem: 161), de repente (idem: 97) ou de supetão (idem: 103) [locuções adverbias recorrentes no texto e cuja função em mais não reside do que na instauração da rutura semântica], irrompe a sátira que, longe de ter um ethos agressivo, se faz sentir sob o modo lúdico, menos de matriz irónica do que de cariz humorístico. Alvos flagrantes do humor, por distanciamento interposto, do Autor não deixam de ser a viúva de Joe, que, havendo perdido a Ilha em mar ignoto, só com sorte a poderá reencontrar em qualquer maré-vaza, e o seu parceiro de trânsito Reigó, apreensivo quanto ao local onde deixou uma Ilha só dele conhecida e só por ele estimada a partir do momento em que dela se descartou. O falaz diálogo (com foros de monólogo…) que entre os dois se estabelece constitui per se trampolim simbólico para a crítica do ilhéu-emigrante apátrida: ao continuum verbómano de Deolinda Perry, cuja logorreia tanto sepulta, lacrimante, o defunto Joe como verbalmente o ressuscita no seu ofício exímio de envernizador de chouriços, opõe-se o silêncio complacente do seu companheiro de viagem, “de poucas falas” (idem: 88) e “com a cara falidinha” (idem: 94), destinatário mor de tanta inanidade palavrosa. É ele, porém, que fazendo jus ao chouriço ilhéu, “uma especiaria e uma bandeira de emancipação da miséria” (idem: 89), vai metamorfoseando, no seu foro íntimo em movimento a contrastar com a movimentação verbal, mas exterior, de Deolinda, a produção em série de chouriços, envernizados por Joe, em santa procissão chouriçal, resplandecente de certos emigrantes, portadores, cada qual, da “sua Ilha pela luzidia trela de ouro americano” (idem: 91). Afinal, no antanho, configurava-se a Ilha como um espaço paradisíaco, desconhecedor da hodierna dinheirama que brota, a jorros, dos partidários de automóveis de luxo, porquanto os “coriscos dos dólares são diabinhos que enfiam o rabinho tentador na cabeça de muito boa gente.” (idem: 152). À medida que se vai estreitando a intimidade unívoca entre a senhora Deolinda e o senhor Manoel (aproximação que tem em Joe o seu epicentro), não hesita a primeira, profissional oficiante da palavra, em contar ao segundo o pecadilho cometido noutros tempos, por culpa da mentalidade retrogressiva da Ilha e da branda administração americana: tendo ela, com efeito, cinco anos a mais do que Joe, e ditando o bom tom ser uma noiva mais jovem do que o noivo, não se inibiu a ainda ‘não viúva’ Perry de se aliviar e de olvidar o módico número de sete anos, como diferença de idades, já que “diferença poderá então fazer sete anos a mais ou a menos em riba do pêlo?” (idem: 148).
Crítica similar ao boateiro rigor das autoridades norte-americanas (que não apadrinham enchidos de porco nas malas, mas pactuam com vistos de turismo falaciosos) perpassa na estória de Antília, que, por cobiçar um apetecível trabalho fabril, força o tio, Manoel Reigó, a ir falar com Mr. William Cavalo. Se, por um lado, arranja emprego num “salão de beleza extraterrena” (idem: 157), imagem lúdica de “Funeral Home”, a enfeitar os “aposentado[s] da vida” (idem: 93), eufemismo jocoso de mortos, por outro, a condição sine qua non de tal angariação ou recrutamento oblíquos, a saber, a obrigatoriedade de tomar de empréstimo vitalício o nome de sua prima Ausenda e de, por conseguinte, inumar para todo o sempre o seu próprio nome, condu-la à loucura. Aliás, o nome adulterado, porque adaptado à “estranja”, oscilando entre a identidade como fonte insular e a alteridade como meta emigratória, e apanágio de certo ilhéu-emigrante (e certo, uma vez mais, porque o narrador não generaliza nem tipifica, antes individualiza…), constitui farpa recorrente no universo diegético desta novela em espiral. Quedemo-nos, por exemplo, quer em John De Suza (idem: 127) - sendo a preposição, com pretensões nobiliárquicas não raro desmentidas pelo populismo de estirpe, grafada com maiúscula e constituindo o sobrenome um aceno de cumplicidade para o leitor avisado -, quer em Joe Perry que, antes de se tornar cidadão americano, era o “José Pereira Assopradinho na Ilha” (idem: 116), quer em Manuel do Rego que, após aterrar na Nova Inglatera, fica a ser conhecido por Manoel Reigó - “Manolinho nos círculos mais íntimos.” (idem: 116) -, quer, finalmente, em William Cavalo, “descendente de um Carvalho da Ilha” (idem: 155). Os patronímicos adoptados lestos se alargam à toponomástica pela via do pastiche magistral de um certo (e a repetição do determinante é voluntária) idioleto e regioleto luso-americano, no qual açorianismos, ‘continentalismos’ e americanismos coabitam em franca harmonia. Assim sendo, New Bedford e Fall River transmudam-se em Bateféte e em Forrível (idem: 85); por seu turno, o senhor Afrânio que, aspirando a gravar o seu nome (e não veiculará o nome a identidade?) na firma industrial “William’s Cotton Mill, Co.”, apenas consegue aparecer “na cauda do nome legal” (idem: 100), ou seja, no “Co.” (abreviatura de “Corporation”), que, abreviadamente, recusa a junção do exótico “Afranio’s” (idem: 100-101); quanto ao falecido Joe, que morre em serviço ao envernizar o derradeiro chouriço, ele era o digno proprietário de “Perry’s chouricos and linguicas” (idem: 118)…
Neste linguajar ‘mascateado’, ambas as línguas, portuguesa e americana, vão perdendo as suas idiossincrasias em proveito de uma mescla que, pelo seu hibridismo, dá a sensação de se impor como língua franca: por um lado, usa-se e abusa-se do lusitano impessoal como sujeito, bem ao gosto coletivo, detentor de um incomparável valor estilístico: “A encomenda destinava-se ao Estado de Rhode Island. Aí os imigrantes contam-se aos milhares. Ele é Bristol, ele é Newport, ele é Providence, ele é Warrren…” (idem: 120); por outro, o lexema “subterrâneo” surge anodinamente como sinónimo de conterrâneo, perdendo o embarque a sua “porta” para conquistar a sua “gate”: “ - Saiba o senhor Reigó que ainda é meu subterrâneo pela banda de meu Pai; foram nascidos na mesma Ilha.” (idem: 156) / “Aqui no aeroporto o gate possui um número.” (idem: 132). Já para não falar do “my God” e do “Sorry” (idem: 118-119) que pontuam o discurso, como se os respectivos equivalentes em língua portuguesa primassem pela sua inexistência, ou, ainda, do senhor Joe que pretende fazer da esposa, a taumaturga Deolinda, uma “queen” americana (idem: 84), ou, por fim, do senhor Reigó que quebra o compungido silêncio por não resistir à tentação de confessar que vai à Ilha gozar as suas “vaqueixas” (idem: 86). Um caso inolvidável é o da senhora Deolinda Perry, que recorre apenas ao presente, desprezando o pretérito, e ao substantivo, pela realidade concreta que dele emana. O resultado final não poderia ser obnubiladamente mais promissor: “- Eh Joe, parca-me o aresmobil na cóna de baixo, que a cóna de riba está tomates fógui..” (idem: 124).
Se a sátira à América, vista pelo emigrante, firma este continente como o “Fruto da fé, do dólar e da fartura” (idem: 89) - onde o ilhéu lusíada, receoso de ser julgado em língua estrangeira (mas não ‘bárbara’…) pelo Padre Eterno, se apresta a praticar um bilinguismo de suspeita hibridez, elegendo como estandarte a quadra que uma certa folha imprimiu em resposta à diatribe da sua congénere [“Assim, pela última vez, / Vou dizer ao tal fulano / Que Deus fala português, / Nunca aprendeu amar’cano!”) (idem: 122)] -, como uma terra em que “tudo se resolve a contento das pessoas”, acreditando os Americanos “em tudo quanto se lhes diz” (idem: 147), como “a terra da liberdade” que, por não ter património milenário, anda no encalço das mais-valias alheias e europeias [“Ossos de mortos ilustres”, “Castelos inteiros, pedra por pedra” e “Espadas ferrugentas de reis” (idem: 84)] e como o país, qual conto de fadas, onde “os mortos, sem qualquer distinção de classes, se querem bem ataviados e cheirosos para entrarem os portões da eternidade” (idem: 157), a sátira à mátria insular, retomando o campo lexical da religião, é carreada pela “santíssima trindade do senhor Afrânio” - “a Ilha” [que “Reside há mais de três décadas em Massachusetts” (idem: 103)], “as moscas e a bosta” (idem: 106). Do seio destes dois universos sociolinguísticos insólitos, que funcionam como “vasos comunicantes” inter pares, eleva-se, como espécimen representativo, o senhor Afrânio, alojado pelo narrador ‘em trânsito’ no Hotel Terra Pulchra - “um dos mais estrelados de toda a Ilha” (idem: 162) -, avatar da sala de espera do aeroporto. Têm, contudo, o fatum ou o acaso desígnios com os quais nem sonha esta personagem (tio-avô de Afrânio Condinho Gaudêncio e seu padrinho por procuração), chamada pelo narrador para ilustrar uma certa teoria inovadora sobre a emigração: ao pedir, com efeito, um internacional bife com um ovo a cavalo [sendo este bife açoriano e não texano, o qual, segundo testemunho idóneo do narrador, é o “melhor do mundo” (idem: 162)], eis que um inseto díptero, vulgarmente designado por mosca (aquém e além-Atlântico), se atreve a cair na “molhanga amarela da gema esborrachada” (idem: 162-163), acabando por nela se imobilizar. Ora, como “Nisto de moscas era o senhor Afrânio muito tafe mesmo”, a crítica não tarda a fazer a sua aparição em cena, sob a forma de teoria filosófica que o acirrado pró-americano e pseudo-americano vai filosoficamente desenvolvendo: “- Ninguém me tira das ideias, meus senhores. Mas ninguém. Tanto as moscas como as baratas. Já se começam a ver na terra da América. Ninguém me tira das ideias que não foram levadas pelos emigrantes das Ilhas. Gente mais dirty outra igual no mundo não conheço. Levam-nas nas malas e nos forros dos casacos. E chouriços também. Sou ainda do tempo. Santo tempo esse, em que não se enxergava uma só mosca em toda a terra da América. Depois que a emigração abriu as pernas, foi uma enchente de mosquedo e barataria, só visto. É bom que se saiba que nada tenho contra as novas leis da emigração. Quanto mais gente vier para a América, menos míngua haverá nas nossas Ilhas…” (idem: 163-164). Numa incipiente análise do discurso, quedemo-nos, fugazmente, na tripla repetição anafórica e dogmática do indefinido “Ninguém”, na dupla retoma do plural “ideias”, inusitado e descontextualizado na expressão idiomática, nos americanismos que subrepticiamente invadem o fragmento que se quer argumentativo [“Let it go desta vez.” (idem: 163)], na associação mosquedo e barataria em que o zeugma chouriço só pode deter um caráter lúdico, na analogia, que a metáfora subentende, entre emigração e prostituição, na conceção regionalista do bem internacionalizado muscídeo e, por fim, na reviravolta ideológica do luso-americano que, após verberar a emigração, se não inibe de a defender, em nome da “Ilha transplantada”, num intuito económico e moralizador em simultâneo. Do mesmo modo, o seu amigo, eminente visitante chegado de Boston para se submeter - não em Boston… -, na Ilha, a um tratamento de bexiga, inicia-se no débil discurso independentista de uma Ilha singular (olvidando as demais oito ilhas do Arquipélago) - “[…] aproveitava o ensejo para iniciar um peditório destinado à angariação de fundos com vista à independência da Ilha. Mas só da sua Ilha. Que fique bem claro. As outras que se desunhassem.” (idem: 165) -, que o discurso indirecto livre, aliado à expressão popularmente oralizante, corrobora humoristicamente. Aliás, o contraste, por vezes aviltante, entre a fisiologia e a espiritualidade, a primeira sobrelevando a segunda, é apanágio das personagens produtoras de um discurso algo infantilizado: o senhor Reigó, depois de cumprir a sua “devoção diária no Clube do Divino Espírito Santo de Fall River” (idem: 125), dirigia-se, lesto, para casa… obcecado por uma “biinha” ou, traduzindo do luso-americano, por uma “cervejinha”:
“- Ah Janim, minha rica cara, traz uma biinha ao vavô; está na freijoeira; mim querer biinha fresca…” (idem: 125).
Um outro caso de contraste comicamente aviltante é a saída da Ilha, assolada pela superstição reinante, da imagem milagrosa do Santo Cristo, que dá início a um complicado périplo marítimo para findar, algo desairosamente, num “galinheiro de uma casa situada num lugarejo escondido”, somente descoberta por certas aves galináceas e palmípedes: “as galinhas, os frangos e um casal de patos-marrecos.” (idem: 129).
Soa, todavia, a hora (estando a noite em trânsito para a madrugada) de o narrador, esquecido de si mesmo, mas não esquecedor das estórias de outrem, por si engendradas, abandonar a sua peripatização. Cansado e endolorido, senta-se, na sala de espera vazia de um aeroporto inominável, em companhia da aquietada “Sebastiana”” que, só em trânsito, tende a serenar. Enxerga, ainda, o Carvalho Araújo, no qual deveria ter embarcado “para a boa continuação desta história”, conquanto lhe seja “impossível ir daqui a nado até alcançar o navio” (idem: 171). As suas personagens lá abalaram (podendo ser, quiçá, retomadas, por invocação e evocação, em contos a vir), e ele próprio, o “Homem-Ilha” ou a “Ilha-Homem”, bipartido entre dois pólos litigantes, o ego e o alter ego, o outro do passado e o eu do presente, aguarda uma pista desimpedida “para a descolagem de algumas das [minhas] suas aventuras aéreas, como as [minhas] suas raízes”, pois são estas que “[me] o sustentam de pé.” (idem: 172).
Que nos sejam permitidas, para concluir, algumas considerações, talvez impertinentes, sobre o mérito incontestável de Passageiro em trânsito.
1. A reflexão constante sobre o acto de escrita, genelogicamente falando, que o tentame de ‘rotulação’ da obra, por parte do Autor, evidencia à saciedade, ao subverter o cânone: “novela em espiral ou o romance de um ponto a que se vai sempre acrescentando um conto.” (idem: 3). De facto, a metáfora geométrica da “espiral” traduz geometricamente a estrutura da ficção, que redunda no escorço de uma linha curva descrita por um ponto, que tanto voluteia, de modo contínuo, em torno de outro, como dele se vai afastando em gradação crescente.
2. O poder duplamente ‘reflexivo’ da alegoria, correspondente à metáfora in absentia, desafiando o leitor para o vaivém entre a significação literal, ancorada num referente concreto, e a significação simbólica, umbilicalmente ligada à primeira pela analogia. Exemplo deste balancé é, sem sombra de dúvida, a entidade Tempo [que tanto se estende - no aeroporto - e cresce - na Ilha - como escasseia ou falha (numa trajetória englobando, algo paradoxalmente, a míngua e a abundância)], com a qual se ‘empanturra’ o narrador, desejoso de ofertar aos pobrezinhos algumas “conchas” temporais “ainda em bom uso. [...] Só um tudo-nada puído [as] nos cotovelos.” (idem: 78). Mas quem anela, hoje em dia, por uns farrapitos têxteis temporalmente usados?
3. A leitura plural, defluindo do item anterior, que é generosamente ofertada ao leitor hermeneuta, brindado, desde o incipit, com o vocativo enganadoramente ternurento “meu amor”.
Numa perspetiva psicanalítica, o fatalismo inerente ao nascimento na Ilha configura simbolicamente a ulterior condição do Homem e do Escritor ilhéu. É ele que decide, porventura inconscientemente, fazer um “ajuste de contas” consigo mesmo e com o espaço insular (do latim: insula, insulae), no encalço incessante da mítica pureza islenha de antanho, a qual, doravante contaminada, apenas se poderá lobrigar no avatar do seu transplante em terras do Novo Mundo. Daí, a apóstrofe das raízes que, entranhadas, doem - ao invés do que acontecia na sua “anterior encarnação” (idem: 54), quando era menino e, mais tarde, aquando jovem residente numa “república” em Coimbra -, o pavor no que respeita à irreversibilidade do tempo que se vai acumulando, a apostasia da fratura vulcânica que fere, a geminação dos corpos não apartáveis e a construção fragilizada do sujeito escrevente, submisso às rotas marítimas consubstanciadas pela(s) metáfora(s), no “sentido de transferência. Desvio de significação de uma palavra para outra. De um ser para outro ser. Tropo. Com ligações, claras ou subterrâneas, entre si. Por vezes clandestinas.” (idem: 25).
Do ponto de vista temático e sociológico, a sátira ‘matreirinha’ do fenómeno da emigração, carreando a caricatura magistral de certos emigrantes complexados, cuja partida se deve não tanto à superação da pobreza que grassava na Ilha, mas antes ao anelo utópico de aquisição de um estatuto de “grande senhor”, em quase tudo similar ao que, por privilégio de nascença, era concedido aos senhores feudais da Ilha-feudo. Assim é que desfilam, em sacrossanta procissão, a mentalidade estreita, conservadora ou provinciana, a ambição mesquinha do ganho iminente e do lucro rápido ou fácil, a teia da invejidade a desembocar nos ‘enredos’ da trapaça e a visão confrangedoramente redutora de um regresso apoteótico à Ilha como exteriorização de uma inexistente supremacia intelectual e de um falacioso triunfo materialista, na ausência de um genuíno progresso anímico.
Numa abordagem estilística, a hegemonia do humor sobre a ironia, ou seja, dessa operação de espírito que, lesta, deteta, mede e sublinha o desfasamento entre o ideal e o real, não se coibindo de pedir à ironia determinadas vias de pseudo-simulação tomadas de empréstimo. Nesta sequência, não se afigura despiciendo revisitar brevemente alguns desses recursos estilísticos.
- O fogo-de-artifício lúdico das palavras ‘fogosas’, aparentadas e apartadas pela via de divertida consulta do Dicionário Prático Ilustrado: “ - O meu relógio é uma matriz de infalibilidade. O teu, muito pelo contrário, parece uma meretriz de relaxamento. [....] Compreendi então a diferença entre os dois aferidores da idade dos homens. [...] Acho que outorguei toda a minha preferência ao segundo maquinismo. Mais maluco.” (idem: 82).
- O efeito cómico veiculado pelos diminutivos não hipocorísticos: “Fominha de séculos, Senhor Santo Cristo.” (idem: 92); “Um molhinho de passageiros em plena confraternização em trânsito. Que reconfortante é deixar cair os olhos nesse cachinho de pessoas.” (idem: 98); “[...] o senhor Afrânio padrinho [...] Quer apadrinhar e estar presente na cerimónia da apoteótica entrada do novel doutor na pacata e ordeira sociedade da cidadezinha há anos dorminhando de rabinho assado para o ar.” (idem: 101-102).
- A aliança de palavras que parecem contradizer-se (e, verdade seja dita, se contradizem...), tanto pela adjetivação inadequadamente expressiva, como pelo contraste entre o concreto (prosaico) e o abstrato (sublime), firmados não raro pela rima em final de frase: “Ainda se não passaram grandes momentos após ter a viúva palestrante tomado a peito fazer ressuscitar o defunto marido.” (idem: 93); “Para o fazer retornar às trabalheiras deste enchouriçado vale de lágrimas?” (idem: 93-94); “Não teve o industrial a dita de ter gerado descendentes directos. Legítimos ou de mão canhota, tanto monta.” (idem: 101).
- A adaptação subversora (pela negativa) de lugares-comuns, clichés e estereótipos: “ - Os senhores passageiros sem destino marcado no bilhete de passagem queiram dirigir-se a qualquer sala de embarque disponível. Porta alfa ou ómega. Atenção ao embarque anunciado...” (idem: 90).
- A profusão de asteísmos e de truísmos, reforçados pela focalização interna (voz dual, do narrador e da personagem) e pelo discurso indirecto livre: “A viúva vai em demanda da Ilha com o sentido de vender os bens que ao seu Joe pertenciam. Trabalhar uma vida inteira para os sobrinhos depois herdarem, não era trabalho abençoado de Deus. Do you know? Muito menos para irmãos. Cada qual se fosse governando com o que tinha. Quem quer uste que lhe custe! Mas enfim, nada de murmurações. [...] Cala-te boca!” (idem: 86).
- O recurso à antífrase, sob forma de falsa ingenuidade sarcástica, manipulando o valor (verdadeiro) do enunciado: “Nunca semelhante sociedade pacata, etcetra, poderia alguma vez consentir, em nome dos bons costumes e valores da família, que o filho de um vendedor de laranjas pudesse vir um dia a renegar o brasão dos seus antepassados vendilhões. Decidido fica por conseguinte que o filho de António Gaudêncio da Covoada, que de Coimbra veio com o canudo de leis no fundo da mala, passe a ser tratado com o respeito devido à sua pessoa e posição. - Eh laró, eh laró! É da doce e sumarenta, patroa!” (idem: 102): “Nela [em Fall River] existiam ao tempo [...] três clubes de diversão e cultura. O do Divino Espírito Santo, o de nossa Senhora de Fátima e o do Senhor Santo Cristo.” (idem: 126).
- A eventual sugestão de um enriquecedor intertexto, cujo papel passa a ser insolentemente invertido e desemboca na crítica da pseudo-intelectualidade e/ou da real ignorância: “[...] D. Cesarina andava sempre de atalaia no seu posto de vigia de mosca à vista. Ela acompanhava o marido em todas as circunstâncias e dizia para quem a queria ouvir que o seu Afrânio e o Antero de Quental faziam belas quadras porque ambos tinham muito vocabulário, além de serem oriundos da mesma Ilha. Pouco depois, e perante o pasmo da dona de casa, zumbiu a mosca islenha.” (idem: 166). Quem dá a sensação, com efeito, de ser relegado para segundo plano é o micaelense Antero de Quental...
Romance sobre o romance ou meta-romance, repassado de crónicas e de contos, Passageiro em Trânsito, obra cimeira da literatura portuguesa de feição açoriana, é o romance do entre. Até nesta conjuntura específica: entre o Autor, que não parece passar a vida “por via da inspiração, a roer em público o plástico traseiro da esferográfica”, e a crítica, que se não identifica com esses críticos que “fazem os seus biscates semióticos, e acabam por publicar autênticas peças sinfónicas em si maior.” (idem: 162).
Em si menor, talvez…
Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos
“Acabado de escrever em Bracara Augusta aos 23 dias do mês de Julho de 2009. Acabado de ser revisto aos 27 dias do mesmo mês. Vale.”
![]()
 Meu, não dá para te passar tudo, mas é uma cena... Como é que t'hei-de dizer, assim uma cena um bocado marada que não dá prá agarrar logo! Tem bué de words novas, tu nem tosgas, eu pelo menos vejo-me à rasca. A profe também anda bimba com a cena, parece que não topa peva, é assim uma cena toda nova. Aquelas gaitas ca gente teve de encornar - os adjectivos, os verbos, essas cenas, 'tás a ver - agora tem tudo outros nomes, bué de compridos e depois cada cena com uma data de nomes.
Meu, não dá para te passar tudo, mas é uma cena... Como é que t'hei-de dizer, assim uma cena um bocado marada que não dá prá agarrar logo! Tem bué de words novas, tu nem tosgas, eu pelo menos vejo-me à rasca. A profe também anda bimba com a cena, parece que não topa peva, é assim uma cena toda nova. Aquelas gaitas ca gente teve de encornar - os adjectivos, os verbos, essas cenas, 'tás a ver - agora tem tudo outros nomes, bué de compridos e depois cada cena com uma data de nomes.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()